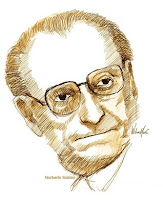Por Marcelo Barbosa
Concebido em aberta ruptura com a esquerda de
tradicional implantação ao fim de década de 1970 – leia-se comunistas e
trabalhistas – o PT nasceu de costas para o Estado e de frente para a sociedade
civil. As questões capazes de mobilizar a legenda de Lula poucas vezes
coincidiram com aquelas formuladas pelas agremiações conduzidas então por
personalidades como Prestes, João Amazonas ou ainda Brizola. Com isso, toda uma
rica agenda de lutas anterior ao marco da eclosão do ciclo das greves do ABC
paulista, a partir de 1978, derivou para um papel secundário. Guardada no baú
das relíquias, a questão nacional, sobretudo o papel do Estado no combate aos
vários níveis de subdesenvolvimento do país, cedeu protagonismo ao avanço de
uma pauta democrática essencialmente compreendida como cidadania econômica:
aumento de salário, acesso a terra, direito a moradia, entre outros itens afins.
A ideia de construir o moderno com base no rompimento com as formas de
dependência de nossa periferia à dominação dos países centrais, pedra de toque das
concepções de construção do moderno da velha esquerda, encontrou pouco eco no
interior do petismo.
Para o chamado PT das origens, nenhum sentido podia
ser extraído da indagação acerca da busca do moderno em uma sociedade de
extrema concentração de renda, cuja passagem para o capitalismo monopolista de
Estado demandara a instalação de uma ditadura civil-militar, em 1964. Perseguindo
essa ótica, empréstimo ao pensamento uspiano – de Florestan Fernandes a Chico
de Oliveira, entre muitos outros – o Novo e Velho apareciam perfeitamente
fundidos e entrosados na paisagem social brasileira. Eram molares da mesma
engrenagem. No caso brasileiro, a obtenção do posto de 6ª economia mundial
surgira sem a necessidade de ajustar contas com as instituições
pré-capitalistas existentes, aí incluído o latifúndio. Em outras palavras, o
moderno já predominava em nossas relações sociais a reboque das lógicas das
tendências à urbanização e industrialização. E, mais. O desenvolvimento
capitalista deflagrado nesse processo tornara mais agudas as desigualdades de
classe, região e renda, em todo território nacional. Conclusão: o tempo para a
conquista de objetivos intermediários como as reformas de base se esgotara. A
luta pela conquista do socialismo vibrava na ordem do dia.
A projeção dos pais fundadores do PT previa
atitudes como o repúdio às alianças com o chamado centro político, estando
interditada, ainda, a possibilidade de apoio a qualquer coalizão de natureza
pluriclassista. A esquerda social caminharia antes só que mal acompanhada. De
preferência, exaltando os valores da democracia de base, da nitidez ideológica
e da crítica à trajetória republicana brasileira. Ação política? A única
legítima consistiria na intervenção de baixo para cima, por meio dos
instrumentos da vida associativa, a exemplo dos sindicatos e as Comunidades
Eclesiais. Mais revolucionário na retórica que na prática, essa modalidade de
petismo das origens deu forma a um grupo de práticas voltadas para a exaltação ao
chamado poder local, procedimento de evasão à real disputa do poder, mas que
permitiu o acúmulo de forças da legenda nas conjunturas de grande instabilidade
verificadas durante os primeiros anos do processo de redemocratização. Residual
nos dias de hoje, essa variante ainda sobrevive em manifestações como a
deificação acrítica de políticas públicas como o orçamento participativo.
Os saudosistas do modelo de militância partidária
presente na infância da atuação do PT defendem com ardor a atitude empreendida
pela legenda naqueles anos de formação. Por óbvio, promovem comparações. Com
alguma procedência, apontam o processo pelo qual o petismo se manteve unido e
em crescimento ao longo das décadas de 1980 e 1990, ao mesmo tempo em que a
esquerda tradicional caminhava para a divisão e o descrédito. O problema desse
argumento, no fundamental correto, reside na sua insuficiência: se o PT encarnasse
apenas a crítica aos contingentes da esquerda que o precederam, nem de longe
poderia cumprir um papel de destaque na vida pública brasileira. Ou seja, já em
seus primeiros anos, vicejavam no terreno da cultura política do PT as sementes
de uma visão mais assente à complexidade de uma sociedade de traços
contraditórios como a nossa.
Personagem de sua própria história, o PT fez
coexistir em seu projeto inúmeras identidades*. Algumas dessas caracterizações,
com vida curta. Outras vieram para ficar e firmaram-se no acervo de
experiências empreendidas pelo partido. Entre essas florações, uma classe de
propostas, que diferindo da primeira das constelações teóricas formuladas pela
agremiação, exibia algum grau de diálogo com a questão proposta ao início deste
texto. Por esse ângulo, construir o moderno requeria o enfrentamento das
oligarquias patrimonialistas, o estamento parasitário responsável pelo atraso e
a desigualdade de nossa formação social, presente desde o período colonial. Em
tal narrativa, o ponto de equilíbrio da atuação da esquerda devia se deslocar
para o combate à corrupção. Impunha-se, nessa ótica, atacar o método pelo qual
as elites decadentes se apropriavam – e se apropriam – das funções do Estado
para reproduzir seus interesses particulares, entravando assim o acesso ao
poder das camadas comprometidas com a democratização da vida pública, tais como
o proletariado moderno e o empresariado produtivo.
Com vistas a demarcar suas posições, esses setores
do petismo radicalmente comprometidos com a reforma do Estado buscaram
distinguir seus pontos de vista da parcela moralista e influenciada pela mídia
monopolista. Com acerto, preferiam não ser confundidos com o fenômeno tratado
pela ciência política brasileira pela designação de “udenismo”. Não à toa, adotaram a defesa de uma pauta
liberal no que refere aos costumes, com ênfase na liberação das drogas ou ainda,
a titulo de ilustração, a defesa da descriminalização do aborto – nada obstante
uma certa presença de militantes católicos nestas correntes de opinião.
Mantendo a coerência, jamais esconderam a sua solidariedade às chamadas
“minorias” que, na realidade, conformam grandes maiorias no vasto mosaico das
relações sociais presentes no país: mulheres,
negros, grupos LGBT, índios, ambientalistas, quilombolas, entre outros.
Plural como as próprias camadas médias donde retira
força, esse segmento do petismo, de igual maneira, nos últimos anos, cresceu a
ponto de espalhar sua influência para a fora da legenda da estrela, fecundando
o debate entre áreas do PSOL e da Rede Sustentabilidade, da senadora Marina
Silva. Até mesmo no interior do governo Dilma tais tendências assumiram papel de
destaque na produção de ideias: a mais influente entre muitas, a denúncia da
“governabilidade” baseada no pacto PT-PMDB, fonte de paralisia (sic) e renúncia
ao enfrentamento com os setores ditos conservadores do patronato político
brasileiro. Fortemente vinculado à política, a prática desses agrupamentos
pouco frequenta o tema econômico. De uma maneira geral, pouco têm a dizer, por
fora da abstração de princípio, sobre a contradição que cinde qualquer
sociedade capitalista: o antagonismo entre capital e trabalho.
Por fim, esse inventário – bastante ligeiro por
sinal – das respostas oferecidas pelo PT sobre o tema da construção do moderno,
não deve omitir a menção a um terceiro quadro de referências. Fenômeno recente,
tal posição conta pouco mais de uma década. Sua principal atitude se enuncia na
busca pela recuperação (seletiva) de alguns de elementos da cultura política
anterior à fundação do partido de Lula.
Sem renegar as respostas fornecidas pelo PT das origens – repita-se, a
afirmação da identidade socialista, para uns, ou o combate ao patrimonialismo,
para outros – essa nova síntese supõe que: forçar a passagem ao moderno
implica resolver a questão social. Cumpre, assim, impulsionar a unidade e a
capacidade de mobilização das forças comprometidas com a erradicação da
desigualdade no país, marca constitutiva do atraso de nossa formação social
desde sempre. Inspirado no pensamento de autores como Celso Furtado, Darcy
Ribeiro, Nelson Werneck Sodré e Ignácio Rangel, entre outros, mas ao mesmo
tempo incorporando contribuições atuais como as de Conceição Tavares e
Theotonio dos Santos, apenas para citar dois autores vivos, esse reforço de
ideias à matriz original petista, pelo que tudo indica, deita raízes sobre o
aprofundamento contínuo dos espaços de democracia política na sociedade. Mas,
não apenas isso.
Trata-se, igualmente, de transformar o atual
caráter das instituições de Estado, colocando-as a serviço dos objetivos de um
projeto de nação capaz de garantir a todos os brasileiros o exercício dos
direitos e garantias individuais e, sobretudo coletivos, em boa parte previstos
no texto da Constituição da República, de 1988. Caminho brasileiro para o
socialismo, a implantação desse projeto nacional, de natureza não autárquica –
porque aberto à integração com a América Latina e África – impõe, no caso do
PT, o manejo de três ferramentas: uma frente de centro-esquerda, um programa de
reformas estruturais e uma estrutura partidária democrática e transparente.
* As reconstituições do debate de ideias no
interior do PT, nos termos propostos neste texto, atêm-se a linhas gerais.
Limitam o escopo da questão a um só tema: as estratégias de combate ao atraso
estrutural do país. Outros tópicos geraram diferentes tipos de clivagem,
conforme o caso das controvérsias acerca das formas de construção partidária,
só para citar um dos contenciosos mais polêmicos. Por certo, outras
sensibilidades em relação ao moderno existiram – e persistem existindo – no
interior da agremiação. Sendo certo, ainda, que há contingentes na estrutura
partidária completamente alheios a este tipo de problema teórico. Para estas
áreas – presentes, em maior ou menor grau, em todas as tendências partidárias –
trata-se apenas de reproduzir a presença da legenda como máquina arrecadadora
de votos. Os impasses verificados pelo anseio de definição de uma cultura
política adequada não tiram o sono desse tipo de militância já muito há perpassada
pela deformidade burocrática.
Sugestão
de Leitura
Para uma abordagem concisa, mas consistente e bem
fundamentada, da ideia de projeto nacional, ver BENJAMIN, Cezar de Queiroz, A Opção Brasileira. Rio de Janeiro: Contraponto,
1998.